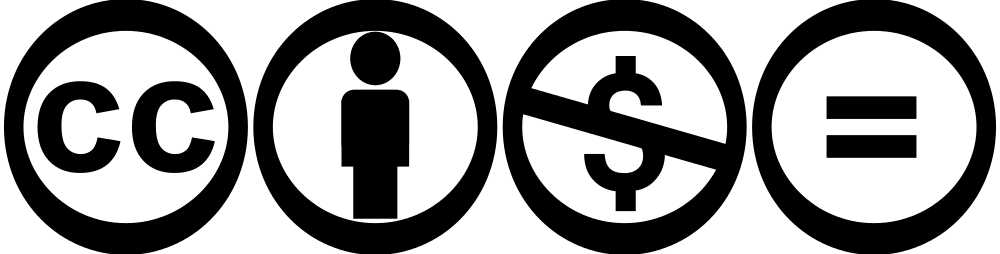Estou encerrando “A descoberta do mundo”, da Clarice Lispector, que reúne em ordem cronológica crônicas e textos que ela escreveu para o Jornal do Brasil (JB) entre agosto de 1967 e dezembro de 1973. Li em concomitante com outros livros e, lá se vão mais de um mês, aproveitando a miúde suas mais de 600 páginas. Brinco que este é “um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo-o, dormindo-o”, parafraseando um trecho do conto “Felicidade Clandestina” da autora.
Depois de já ter lido praticamente todos os livros do box especial da Clarice, é muito interessante identificar textos, contos e trechos de outras publicações na sua coluna semanal, que ela publicava sempre aos sábados. Além de notar sua resistência e receio em soar pessoal demais escrevendo crônicas para jornal. “[…] continuo um pouco sem jeito na minha nova função daquilo que não se pode chamar propriamente de crônica. […] fico automaticamente mais pessoal. E sinto-me um pouco como se estivesse vendendo minha alma”.
Outro livro que li recentemente e que também era um compilado de textos publicados em jornal foi “A vaca e o hipogrifo”, do Mario Quintana. Editado pela primeira vez em 1977, a obra reúne crônicas, poemas, anotações, anedotas e frases que Quintana escreveu ao longo de uma década no suplemento literário Correio do Povo, de Porto Alegre.
Nestes textos para jornal, o escritor é espirituoso, sarcástico, preciso e espontâneo, assim como muitas vezes “vejo” a Clarice sendo nos textos da sua coluna no JB. Os dois – mas principalmente o Mario – conseguem sintetizar tanta reflexão em uma frase, e isso é realmente espantoso e prazeroso de se ler.
“Há ilusões perdidas, mas tão lindas que a gente as vê partir como balõezinhos de cor que nos escapam das mãos e desaparecem no céu…”, escreve Quintana, em dado momento de “A vaca e o hipogrifo”, e eu consigo visualizar o balão colorido, bonito e desejado escapulindo das minhas mãos desajeitadas. Mais uma ilusão perdida. Já Clarice: “[…] muita coisa inútil na vida da gente serve como esse táxi: para nos transportar de um ponto útil a outro. E eu nem quis conversar com o chofer.”
Lendo os textos do Quintana e da Clarice para jornais, tive muitas vezes a sensação de conversar “olho no olho” com eles, uma impressão intima e direta. Senti certa inveja dos leitores da coluna da Clarice: ela recebia muitas cartas comentando os textos e, às vezes, respondia na própria crônica semanal. Clarice, que tinha medo de soar pessoal demais, vendendo a alma no jornal e escrevendo por dinheiro, sempre trazia sua face mais humana. É essa humanidade e pessoalidade que nos fazem sentir como se fôssemos próximos a ela. Quanto a Quintana, seus textos escritos entre os anos 60 e 70 são surpreendentemente atuais; tive que me certificar várias vezes de que não tinham sido escritos hoje em um suplemento de algum jornal.