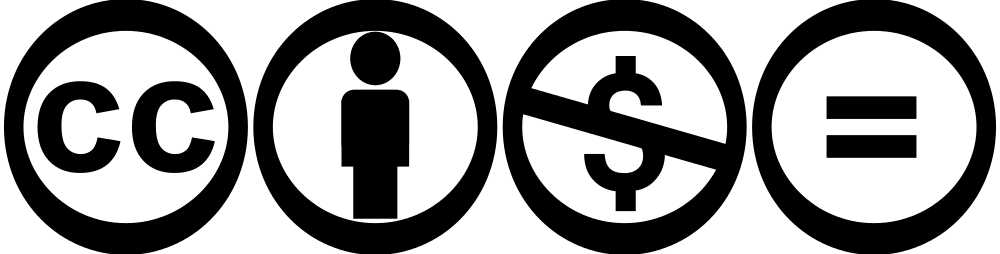Narrativas plurais não sobrevivem em estruturas coloniais
O discurso da diversidade ganhou espaço nas campanhas publicitárias, nos painéis de grandes eventos e nas metas institucionais de ESG. Mas, quando desviamos o olhar do que está na vitrine e observamos os bastidores da comunicação e do marketing no Brasil, a promessa aparente de inclusão rapidamente se desfaz. O que vemos é um mercado que continua sendo operado, dirigido e validado pelos mesmos de sempre, enquanto profissionais de grupos minoritários são, no máximo, convidados para ilustrar pautas pontuais ou validar discursos já prontos.
De acordo com o II Censo de Diversidade das Agências Brasileiras (2024),do Observatório da Diversidade na Propaganda, mulheres representam 57,9% da força de trabalho nas agências, mas ocupam apenas 33,2% dos cargos de liderança. Pessoas negras são 22,3% do setor, mas estão em apenas 9,1% das chefias. Indígenas mal aparecem nas estatísticas. Pessoas com deficiência e LGBTQIAPN+ seguem invisibilizadas nos espaços de decisão.
Esse problema não é exclusivo das agências, ele se repete no audiovisual. Segundo o Anuário Estatístico do Audiovisual Brasileiro (2023), mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência e moradores de territórios periféricos seguem à margem, não apenas das telas, mas dos espaços de liderança, criação e produção.
Esses dados não apenas reafirmam desigualdades persistentes – estruturais e históricas – como também expõem um mercado que se aprimora na arte de parecer diverso, sem, de fato, se transformar. O mais perverso é que esse mesmo sistema se apropria da linguagem da diversidade como ativo de marca. Lucra com corpos e pautas que não está disposto a incluir de verdade. Celebra campanhas “inclusivas”, mas mantém a lógica da terceirização da diversidade: contrata para a vitrine, mas não muda quem opera o bastidor.
Isso não é falha de gestão. É projeto. O mercado criativo ainda funciona sob a lógica da colonialidade: centraliza saberes, válida apenas uma estética, distribui privilégios a partir de critérios raciais, de classe e de gênero.
Quem segue escolhendo a pauta, aprovando a verba, assinando o roteiro, sentando na cadeira de direção: ainda é, majoritariamente, o homem cis hetero branco do eixo Rio-São Paulo. Enquanto isso, mulheres, pessoas negras, LGBTQIAPN+, profissionais com deficiência e de territórios periféricos seguem precisando comprovar, reiteradamente, sua competência, talento e capacidade. Trabalham dobrado, se cobram em triplo e ainda são atravessados pela desigualdade dos salários, das chances de promoção e do acesso a projetos estratégicos.
Essa estrutura que define o que é “profissionalismo”, “bom gosto” ou “qualidade técnica” é a mesma que historicamente excluiu saberes populares, territórios periféricos, narrativas negras, indígenas, trans e quilombolas. Apesar do discurso futurista que a indústria gosta de encenar, ela permanece atrelada a estruturas de exclusão que já deveriam ter sido superadas, mas seguem sendo reproduzidas como regra.
A comunicação, portanto, antes de ser um produto, é um campo de disputa política e simbólica. Quem tem a palavra, tem o poder de moldar percepções, validar existências, construir futuros. E quando os bastidores continuam fechados para a pluralidade, o que chega ao público é sempre uma versão filtrada da realidade. Uma narrativa que repete a mesma lógica de exclusão, agora travestida de inovação.
A diversidade que queremos não cabe em um post. Ela precisa estar nos organogramas. Nas decisões de contratação. Nos critérios de liderança. Nas relações com fornecedores. Nos editais. Nos briefings. É uma construção cotidiana, estratégica, política. Porque narrativas plurais não sobrevivem em estruturas coloniais. E, para transformar o que se comunica, é preciso antes transformar quem comunica.