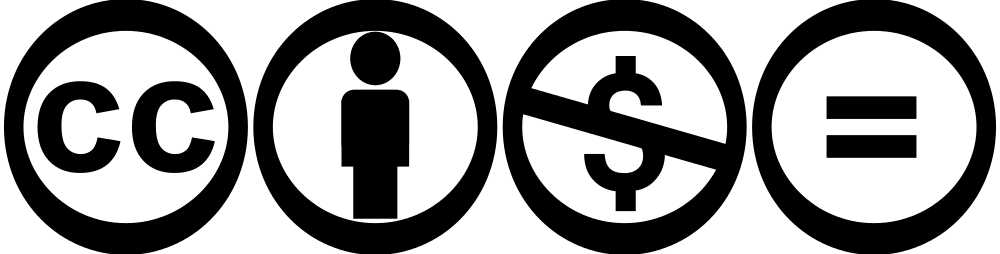O ano de 2024 marcou os 60 anos do golpe militar (1964-1985) que depôs João Goulart, presidente democraticamente eleito. Em 1964, precisamente no dia 1º de abril, os militares assumiram o controle do país em resposta a uma suposta ameaça comunista e permaneceram no poder por 21 anos. A censura a livros durante esse período foi uma das muitas faces sombrias do regime, que visava também o controle da produção cultural e do acesso à informação no país.
Ao longo dos anos, tive um contato muito superficial com o tema e, por isso, desconhecia muitos fatos. O marco histórico despertou meu interesse em estudar e ler sobre o período, e entender as reverberações que ainda persistem no nosso cotidiano. Ouvi alguns podcasts, como “A Ditadura Recontada”, produzido pela rádio CBN, dividido em seis episódios que trazem áudios inéditos dos bastidores da ditadura militar, a partir do acervo de quase 300 horas de gravações do jornalista Elio Gaspari — autor de cinco volumes da Coleção Ditadura, que examina o golpe em suas diferentes nuances e períodos.
Recentemente, finalizei “Contra a moral e os bons costumes: A ditadura e a repressão à comunidade LGBT”, livro de Renan Quinalha, advogado e ativista no campo dos direitos humanos. Estou lendo “A Torre: O cotidiano de mulheres encarceradas pela ditadura”, de Luiza Villaméa. Ambos fazem parte da Coleção Arquivos da Repressão no Brasil, da Companhia das Letras. Outro livro que li, há bastante tempo, foi “1968: O ano que não terminou”, do romancista e jornalista Zuenir Ventura.
Dito tudo isso, vou me ater, de fato, ao tema da coluna de hoje, que trata da censura a livros durante esse período. Primeiramente, não existe, até onde sei, um número preciso de quantas obras foram vetadas pela ditadura. Ventura apurou que, durante a vigência do Ato Institucional nº 5 (AI-5), de 1968 a 1978, cerca de 200 livros sofreram censura, mas esse número pode ser muito maior.
A partir de documentos e com foco nos vetos a livros considerados eróticos, Quinalha mostra que critérios obscuros, vagos e subjetivos eram utilizados como justificativa pela Divisão de Censura de Diversões Públicas (DCDP), o órgão responsável. Ele aborda o exemplo da escritora Cassandra Rios, considerada a mais censurada do país, que teve 33 de seus 36 livros proibidos, acusada de tratar de temas imorais e até condenada à prisão.
Durante o regime, foram censurados romances políticos, críticas ao governo e obras com “conteúdo pornográfico”. A censura ao erotismo, sob o pretexto de proteger a moral e os bons costumes, servia como ferramenta de repressão ideológica para silenciar vozes que desafiavam a ordem estabelecida. Esse controle sobre a liberdade artística e a repressão do corpo e do desejo acabou gerando uma produção cultural clandestina.
Sandra Reimão, em sua análise “Repreensão e resistência: censura a livros na ditadura militar” (2011), destaca como o processo de controle sobre as publicações se intensificou a partir de uma legislação que parecia “democrática” à primeira vista, mas que na prática permitia ampla mobilidade interpretativa. As obras literárias que abordavam temas relacionados a sexo, moralidade pública e bons costumes, de acordo com essa regulamentação, eram enviadas para a avaliação censória. Contudo, os limites entre o que seria considerado ofensivo ou aceitável eram tão subjetivos que importantes trabalhos teóricos e ficcionais acabaram sendo censurados.
Qualquer pessoa, autoridade ou não, que lesse um livro e o considerasse subversivo ou atentatório à moral, poderia fazer uma denúncia ao Ministério da Justiça. A partir disso, um assessor era designado para avaliar o conteúdo e, com base em seu parecer, o ministro decidia pela apreensão ou não da obra. Esse processo destacava o caráter subjetivo da censura, já que um livro poderia ser alvo de denúncia simplesmente por não agradar a determinados leitores, sem uma avaliação objetiva do conteúdo.
Segundo a pesquisadora, embora a censura de livros fosse feita, em grande parte, por denúncias, muitas editoras optavam por enviar suas publicações para a Polícia Federal, em busca de uma aprovação prévia, para evitar problemas futuros. Isso demonstra o clima de medo e incerteza que permeava o mercado editorial na época. A censura prévia de todos os livros era tecnicamente inviável, dado o volume de títulos lançados no país. Apenas em 1971, quase 10 mil livros novos foram publicados, e o número de censores, mesmo tendo crescido de 16 em 1967 para 240 ao final do regime, era insuficiente para cobrir todo o mercado editorial.
Mesmo em meio à repressão, o mercado editorial brasileiro experimentou um crescimento significativo na primeira metade da década de 1970, impulsionado pelo chamado “Milagre Brasileiro”. Em 1972, pela primeira vez, o país atingiu a marca de mais de um livro por habitante, com uma população de 98 milhões de pessoas e uma produção de 136 milhões de exemplares. Esse crescimento estava atrelado, em parte, à redução das taxas de analfabetismo, que caíram de 39% para 29% entre 1970 e 1980, possibilitando um maior acesso da população à leitura.
Apesar do aumento da produção editorial, a censura representou uma barreira ao livre acesso à literatura e ao pensamento crítico. A perseguição a obras que abordavam questões sexuais ou desafiavam as normas morais da ditadura impunha restrições à liberdade de expressão, ao mesmo tempo que o controle do governo sobre o conteúdo publicado se tornava uma ferramenta de repressão cultural. Essa dinâmica, conforme aponta Reimão, reflete o caráter autoritário do regime e a forma como a censura moldava o cenário literário e intelectual da época.
Infelizmente, a censura a livros não se restringiu à ditadura e tem assombrado também o período democrático. A título de exemplo, no início de março deste ano, houve um episódio envolvendo um livro sobre racismo e violência policial. Uma diretora de escola no Rio Grande do Sul denunciou “O Avesso da Pele”, de Jefferson Tenório, sob o pretexto de “vocabulário de baixo nível” e “vulgaridade” nos termos utilizados na história. Após a denúncia, a Secretaria de Educação do Paraná recolheu todos os exemplares do livro nas escolas estaduais, alegando a necessidade de uma “análise pedagógica”. Em seguida, os governos de Goiás e Mato Grosso do Sul também adotaram medidas semelhantes.
Casos de censura literária têm se repetido no Brasil nos últimos anos. Em 2018, cinco câmaras de vereadores do Rio Grande do Sul exigiram a retirada do catálogo “Queermuseu” de circulação. Em 2019, o ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella, mandou recolher exemplares do livro “Vingadores, a Cruzada das Crianças” por conter a ilustração de dois homens se beijando. O livro de poesias “Beirage”, de George Furlan, foi censurado por críticas à ditadura e à bancada evangélica. Já em 2023, nove livros, incluindo “Laranja Mecânica”, foram retirados das escolas públicas de Santa Catarina.
Em tempos em que a educação e a cultura se tornam alvos recorrentes de ataques, os casos de livros censurados alertam para o risco de retrocessos em termos de liberdade acadêmica e pluralidade de ideias. Se por um lado as justificativas parecem se apoiar em uma suposta proteção dos jovens, por outro, fica claro a tentativa de impedir que discussões sociais importantes cheguem às escolas e desafiem a visão tradicionalista de mundo.
Longe de ser algo exclusivo do Brasil, o fenômeno de controle cultural, com base em valores conservadores, tem avançado em diversas partes do mundo. Governos e grupos ultraconservadores tem levado a medidas similares, criando um ambiente hostil à liberdade de expressão e ao debate de temas que desafiam as estruturas de poder e opressão. Mesmo após o fim da ditadura, o debate sobre a liberdade de expressão e os limites da censura continua relevante, especialmente em um país que ainda enfrenta desafios em equilibrar moralidade, direitos individuais e liberdade artística.