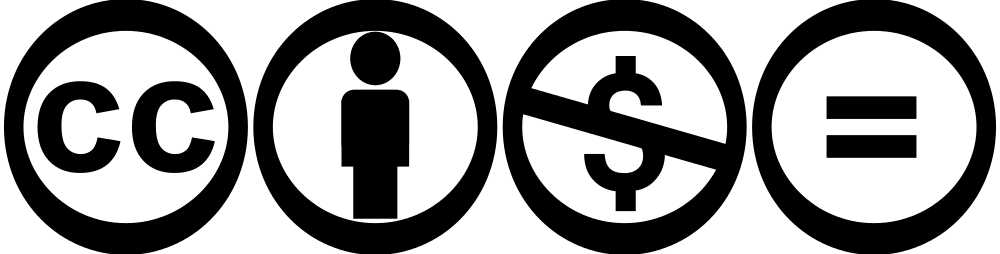“Como homem, sofre; como escritor, transforma seu sofrimento em arte.” — Susan Sontag
“Sim, minha força está na solidão. […] pois eu também sou o escuro da noite.” — Clarice Lispector
Em O artista como sofredor exemplar, Susan Sontag fala sobre a fascinação mórbida que o público alimenta pela alma exposta do artista. Ela diz: “Para a consciência moderna, o artista (substituindo o santo) é o sofredor exemplar. E entre os artistas é o escritor, o homem das palavras, que consideramos o mais apto a expressar seu sofrimento.” (p. 63). Para justificar isso, ela descreve “o escritor” como um indivíduo que encontrou o nível mais profundo de sofrimento e como sublimá-lo: “Como homem, sofre; como escritor, transforma seu sofrimento em arte.” É isso que penso quando penso em Clarice.
“Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite.” (A Hora da Estrela, Clarice Lispector.)
Poucas figuras da literatura brasileira carregam uma aura tão marcada pela dor — não só a dor expressa em seus livros, mas a que parece ter sido projetada sobre ela enquanto figura pública. Clarice se tornou, em algum ponto, menos uma escritora e mais um ícone de uma dor existencial profunda, quase metafísica. A mulher que “também é o escuro da noite”. Mas até que ponto essa dor que projetamos sobre ela faz jus à mulher que foi — inteira, contraditória e viva?
Conheci Clarice como muitos a conhecem: seduzida por sua imagem. Foi aos 13 anos, com Perto do Coração Selvagem. Não compreendi tudo que li, mas fui atravessada por algo que não sabia nomear. Depois disso, por anos, a deixei em suspenso, no mesmo lugar onde costumo colocar figuras que sentimos como grandes demais para tocar com frequência — essas religiosas. Clarice tornou-se, para mim, uma entidade, uma dessas presenças literárias que existem maiores que sua própria vida.
Tem algo curioso nesses artistas mitificados: em geral, conhecemos mais os fãs do que o próprio autor. Clarice cultivou — ou foi cultivada por —, um grupo de leitores quase devocional. Um culto. Não só à obra, mas à mulher que se projetou para além dela — ou que foi projetada, às vezes sem escolha. Entre entrevistas, fotografias, anedotas, a imagem mais difundida é a da Clarice melancólica, silenciosa, ferida.
Essa imagem se cristalizou na sua última entrevista, dada ao repórter Júlio Lerner, em 1977. Transmitida pela TV Cultura, ela mostra Clarice sentada numa poltrona, com os olhos cansados e a voz lenta. Muitos já viram trechos no YouTube. É bonito e perturbador. Onze anos antes, ela havia sofrido um incêndio em casa que quase lhe tirou a vida. Ficou hospitalizada por dois meses, marcada física e emocionalmente. A entrevista parece uma espécie de declaração: ali está a escritora ferida, iluminada por uma luz opaca, devolvendo ao público o papel de mártir que esperavam dela.
Mas a Clarice dos bastidores era diferente. Em cartas às irmãs e aos filhos, aparece uma mulher brincalhona, afetuosa, muitas vezes alegre. Trocava receitas, reclamava da vida cotidiana com bom humor, fazia confidências banais. Outros escritores, como Fernando Sabino, também descrevem uma Clarice bem-humorada e viva.
Caio F. de Abreu, no entanto, teve outra impressão. Escreveu numa carta à Hilda Hilst:
“Vi uma mulher linda e estranhíssima num canto, toda de preto, com um clima de tristeza e santidade ao mesmo tempo, absolutamente incrível. Era ela. […] Ela é demais estranha. Sua mão direita está toda queimada, ficaram apenas dois pedaços do médio e do indicador, os outros não têm unhas. Uma coisa dolorosa. Tem manchas de queimadura por todo o corpo, menos no rosto, onde fez plástica. Perdeu todo o cabelo no incêndio: usa uma peruca de um loiro escuro. Ela é exatamente como os seus livros: transmite uma sensação estranha, de uma sabedoria e uma amargura impressionantes. É lenta e quase não fala. Tem olhos hipnóticos quase diabólicos. E a gente sente que ela não espera mais nada de nada nem de ninguém, que está absolutamente sozinha e numa altura tal que ninguém jamais conseguiria alcançá-la. Muita gente deve achá-la antipaticíssima, mas eu achei linda, profunda, estranha, perigosa.”
Eu gosto dessa descrição de Caio. Ela toca algo que muitos sentem diante da figura pública de Clarice. Mas essa Clarice etérea e obscura não pode ser a única que reconhecemos — não quando temos tantos relatos de uma Clarice ensolarada, dúbia, uma mulher capaz de ser atravessada por todos os sentimentos, e não apenas uma refém da melancolia.
Não seria a primeira vez que escolhemos, enquanto público leitor, imortalizar uma figura do porte de Clarice como trágica e sombria. Talvez porque o mito precise de sofrimento. Talvez porque a dor seja mais literária, mais simbólica. Ou talvez porque essa dor represente algo que reconhecemos em nós, mas não conseguimos nomear — e ela conseguiu, em sua obra.
Mas Clarice viveu, amou, comeu cachorro-quente, criou filhos, escreveu cartas felizes. E talvez o maior gesto de amor à sua obra seja ler seus livros não como oráculos de sofrimento, mas como tentativas corajosas de dizer o que quase não se pode dizer. De escavar o que somos, mesmo quando isso é feito às cegas.
Escolher ver Clarice inteira talvez seja um modo mais honesto — e mais amoroso — de ler sua obra. Lê-la como um ato de escuta. Não escuta do que se quer ouvir, mas daquilo que nos desorganiza. E que, por isso mesmo, nos transforma.